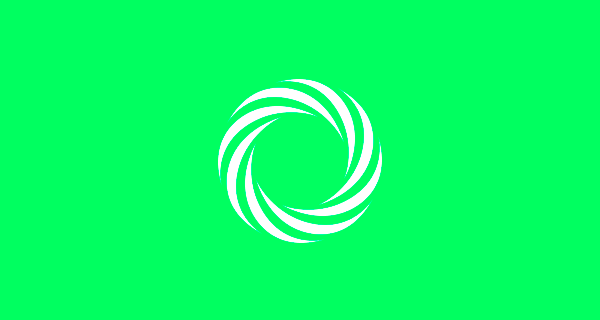Ao superar as limitações materiais do palco elisabetano, a poesia do bardo inglês gerava potência dramática, criava suspense, transmitia sentimentos que montagens luxuosas jamais teriam conseguido
Rodrigo Lacerda
Ao falar sobre o teatro de Shakespeare e, em geral, sobre o teatro que amadureceu na Inglaterra durante o reinado da rainha Elisabeth I, de 1558 a 1603, é preciso ter bem claro o seguinte: aquele teatro não primava pelo realismo.
Para começar, os personagens femininos eram feitos por homens; as jovens, como Julieta, eram interpretadas por meninos, as mulheres mais velhas, por homens maquiados e escanhoados. Os figurinos eram simples e relativamente pobres, reaproveitados a cada montagem. A iluminação do palco não variava de acordo com as exigências dramáticas de cada cena, pois os espetáculos aconteciam durante o dia e a céu aberto. Os dramaturgos não adaptavam a história sendo contada aos recursos disponíveis, criando cenas, por exemplo, onde exércitos inteiros tinham de se enfrentar no palco, quando no máximo duas dezenas de atores compunham todo o elenco. Por fim, os deslocamentos dos personagens nem sempre respeitavam uma lógica espacial ou geográfica; o príncipe Hamlet, ao sair de seu castelo, situado junto ao mar, no alto de um penhasco, e se dirigir rumo ao porto, onde um navio o espera, acaba precisando atravessar uma planície, tão vasta quanto inesperada.
Um teatro de recursos tão exíguos, quase mambembe, jamais conseguiria provocar a necessária “suspensão da descrença”, não fosse por dois de seus elementos constitutivos: a convenção e a poesia. As convenções serviam para comunicar ao público as informações indispensáveis sobre cada situação, ou sobre determinado personagem, de forma simples, prática e direta. Para compor uma cena noturna, o personagem entrava segurando uma tocha. Mesmo que o sol brilhasse sobre o teatro a céu aberto, estava dado o recado. Para criar o jardim do palácio real, um vaso de plantas era posto sobre o palco. Numa cena de batalha, quatro ou cinco soldados representavam exércitos inteiros. Para conferir solenidade aos grandes pronunciamentos reais, o ator que interpretava Sua Majestade falava do segundo andar do palco, colocando-se acima de seus súditos. E assim por diante.
Mas as convenções não resolviam tudo. E se o personagem estivesse em mar aberto? E se ele estivesse diante de um palácio luxuoso? Ou debaixo de uma tempestade? Como representar isso no palco, sem maiores recursos cenográficos ou efeitos especiais?
Aí entrava a poesia. Era através da força sugestiva das imagens criadas pela palavra que os limites materiais daquele teatro perdiam de vez a importância, permitindo que todos os espectadores embarcassem na representação, fossem eles nobres e grandes proprietários de terras, comerciantes ou trabalhadores. A imaginação coletiva era atiçada pelos versos, ora narrativos, ora reflexivos ou descritivos. Não admira que os dramaturgos da época, como Shakespeare, fossem, além de grandes narradores, também grandes poetas. Eles precisavam ser.
Quem está falando a verdade?
Em Rei Lear (Tradução de Rodrigo Lacerda, Editora 34, 2023, 99 reais), temos o melhor exemplo dessa dependência que o teatro elisabetano tinha do poder das palavras e das imagens poéticas. Um cego, Gloucester, é levado pelo filho, Edgar, à beira de um alto penhasco, de onde pretende se jogar, purgando no suicídio as dores e os arrependimentos de sua velhice. Contudo, enquanto andam, os dois travam o seguinte diálogo:
gloucester
Quando chegarei ao cume do tal penhasco?
edgar
Vós o estais subindo agora. Vede o esforço que fazemos.
gloucester
A mim o chão parece plano.
edgar
Terrivelmente íngreme.
Escutai, ouvis o mar?
gloucester
Juro que não.
edgar
Ora, então decaem vossos outros sentidos
Em função do tormento nos olhos.
gloucester
Pode bem ser verdade.
Gloucester, tendo perdido a visão, estranha a pouca inclinação do terreno. Edgar faz o contraponto, assegurando-o que o terreno é íngreme. Mas quem está falando a verdade? A plateia elisabetana, embora o palco que tinha diante de si fosse plano, estava tão acostumada às deficiências cenográficas que ainda não saberia, com certeza, se pai e filho estão subindo o penhasco ou não. Shakespeare parece se divertir ao problematizar, em cena, num lance de metalinguagem, a própria encruzilhada do tipo de teatro que fazia. A pobreza cenográfica cria um problema que ele explora dramaticamente, embaralhando a realidade e a ilusão tanto para os personagens quanto para a plateia. E o embaralhamento se completa quando Edgar, do alto do duvidoso penhasco, descreve com minúcias a vista que tem diante de si, as sensações que a grande altura lhe causa e como a distância muda as proporções de tudo:
edgar
Vamos, senhor, este é o lugar. Parai aqui. Dá medo
E vertigem apontar os olhos tão lá para baixo.
Corvos e gralhas flutuam no vazio distante,
Do tamanho de besouros. À meia altura,
Um homem pendurado colhe funchos; tenebroso ofício!
Ele não parece maior que sua cabeça.
Os pescadores que andam pela praia
Lembram camundongos; adiante, o grande navio ancorado
Está reduzido a um bote, e o bote, a uma boia,
Quase muito pequena para se ver. O murmúrio montante,
Que escalda os seixos passivos e inumeráveis,
É silêncio aqui do alto. Não olharei mais,
ou meu cérebro, girando, e a visão escurecida
Me farão cair de cabeça para baixo.
Antes de ouvir este curto monólogo, a plateia viu Gloucester deserdar, perseguir e sentenciar de morte aquele mesmo filho que agora o leva pela mão, disfarçado de mendigo, e ela sabe, portanto, que Edgar teria bons motivos para se vingar do pai. Se o penhasco for verdadeiro, a percepção que Gloucester tem de si mesmo e do que está à sua volta, todos os seus outros sentidos, foi perdida junto com a visão. Ainda se for verdadeiro, o fato de Edgar não revelar sua identidade ao pai cego demonstra sua condenável intenção de, sem nem um pio de protesto, muito pelo contrário, ajudar o pai a morrer.
Se o penhasco for falso, Gloucester não está tão avariado quanto imagina e seu corpo ainda pode encontrar um jeito de existir no mundo. Também Edgar, neste caso, pode até estar enganando o pai – ao mencionar a força que fazem para subir, o aclive do terreno e o som do mar, e ao esconder sua identidade –, porém o faz com o nobre intuito de trazer alívio e conforto a Gloucester, por meio de um suicídio imaginário, um castigo psicologicamente tão forte que, mesmo sendo ilusório, será capaz de zerar as culpas do velho e lhe devolver o amor à vida.
No monólogo acima, através de imagens muitos simples – os pássaros no horizonte, o catador de funcho ao longe, no paredão rochoso, os pescadores lá embaixo na praia etc. –, sentidos visuais e sonoros são estimulados, compondo na mente de toda a plateia, pela palavra, uma imagem bastante realista de algo que pode ser apenas ilusório. Resultado: Gloucester está para Edgar assim como a plateia estava para Shakespeare – as palavras que ouve criam em sua imaginação uma realidade que pode ser falsa, porém é muito convicente e capaz de produzir fortes emoções.
Esta é, em resumo, a principal característica do teatro de Shakespeare e de seus contemporâneos. Ao superar as limitações materiais do palco elisabetano, a poesia gerava potência dramática, criava suspense, transmitia sentimentos que montagens luxuosas jamais teriam conseguido. Isso explica aquele teatro tão pobre ser tão impactante para a plateia da época, e tão impactante até hoje, embora estejamos embebidos no realismo dos efeitos visuais, que dispensam qualquer esforço de imaginação da nossa parte.
Se o penhasco existe ou não, se Gloucester pula ou não, vive ou morre, e se Edgar é vingativo ou não, deixo para você, leitor, descobrir. Sou contra spoilers.
Rodrigo Lacerda é escritor, tradutor e editor. É autor, entre outros, do livro de contos Reserva Natural (Companhia das Letras, 2018) e do romance A república das abelhas (Companhia das Letras, 2013). É o tradutor da edição mais recente de Rei Lear, de William Shakespeare (Editora 34, 2023).
O post Shakespeare ilusionista apareceu primeiro em Rio Bravo Investimentos.