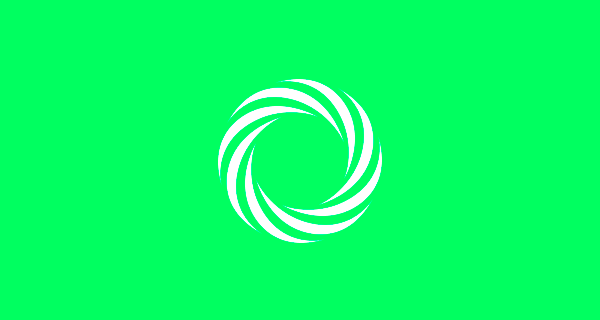“Ele não era de uma época, mas de todos os tempos!” O conhecido elogio de Ben Jonson a Shakespeare inicia a longa tradição de apresentar Shakespeare como artista cujo gênio incomparável flutua acima do tempo e do espaço. Não importa o quão radicalmente diferentes sejam suas plateias, nem quão distantes estejam no tempo, suas peças seriam capazes de descrever com perfeição, para cada uma delas, o sentido da jornada humana. Elisabetanos e pós-modernos, cujas experiências são virtualmente incomensuráveis, se encontrariam, não obstante, no reconhecimento comum do talento quase sobrehumano do Bardo. O divertidíssimo Shakespeare in the bush, de Laura Bohannan (há uma boa tradução brasileira, de autoria de Lenita Rimoli Esteves e Francis Henrik Aubert), brinca exatamente com esse pressuposto, tão amplamente difundido, da universalidade atemporal da obra shakesperiana.
Há algo de incontestável na afirmação de um Shakespeare supra-histórico: sua obra tem sido celebrada, com grande entusiasmo, em diferentes culturas, em diferentes épocas. Mas há, também, algo de enganoso nesse aplauso geral. A seleção de peças, de temas e sobretudo, das molduras de interpretação com que as platéias se apropriam de Shakespeare tem variado radicalmente diversa ao longo do tempo. Não sem ironia, o teatro de Shakespeare cumpre fielmente, assim, a função que Hamlet atribui à arte dramática em geral, que é a de mostrar a “cada época e geração sua forma e efígie”.
O Shakespeare que celebramos hoje é, portanto, o espelho em que desejamos ver nosso próprio rosto, nossa “forma e efígie”. Nossas preferências em relação ao Bardo revelam essa vontade de escolher um ângulo do espelho que nos seja favorável. Se o talento de Shakespeare é sempre inegável – como evidentemente é – por que assistimos repetidamente a algumas de suas peças (quantas montagens teatrais, quantos filmes já vimos tendo por tema Romeu e Julieta, Macbeth ou Hamlet, por exemplo?) e muito mais raramente a outras (quantos se lembram de já terem asssistido Tímon de Atenas, Trabalhos de amor perdidos, Cymbeline, por exemplo)?
A resposta, é plausível supor, está em nós, no uso que fazemos do Bardo para iluminar preocupações específicas, para legitimar teses e perspectivas que nos parecem caras. “Shakespeare já dizia isso” (mesmo quando a proposição é fortemente duvidosa) é um argumento que empresta credibilidade a qualquer tese. A pluralidade vertiginosa e a densidade de perspectivas que Shakespeare, prestidigitador incomparável, consegue construir em seus textos permite exatamente essa apropriação seletiva.
A dificuldade que a crítica especializada encontra para estabelecer com clareza as posições políticas e religiosas de Shakespeare – ele seria católico? ateu?; teria simpatia a ideias republicanas? era um defensor convicto do absolutismo monárquico? – reforça essa ideia de que o gênio do Bardo derivava justamente de ser esse enigma permanente, um caledoscópio que, girado por mãos diferentes, produz imagens novas mas invariavelmente belas.
Essa multiplicidade inesgotável de imagens e os discursos que se podem construir a partir da obra se Shakespeare são testemunho da esplendorosa genialidade do autor, é certo, mas ela diz muito, também, daqueles que o invocam como patrono de suas causas.
Por que nossa época hipertecnológica, narcísica e pós-moderna o celebra como o “inventor do humano”, como o escritor que dissecou e descreveu com cruel exatidão cada traço da experiência humana? O que nos leva a adotar uma leitura de Shakespeare radicalmente oposta a alguns de seus críticos ilustres?
O grande Leo Tolstói, por exemplo, afirmava que “a glória inquestionável de grande gênio de que Shakespeare desfruta e que leva […] leitores e espectadores encontrar nele méritos inexistentes – distorcendo assim sua compreensão ética e estética – é um grande mal, como o é toda grande mentira”
Bernard Shaw, um expoente da dramaturgia, considerava que era sua obrigação “abrir os olhos dos ingleses para o vazio da filosofia de Shakespeare, a superficialidade e falta de originalidade de sua moralidade, sua fraqueza e incoerência como pensador, seu esnobismo, seus preconceitos vulgares, sua desqualificação para todo o tipo de eminência filosófica que atribuem a ele”
Essas avaliações tão distintas daquelas que nos habituamos a ouvir em relação a Shakespeare aumentam seu fascínio para nós, como público. Elas nos ajudam a intuir sentidos ocultos na obra do Bardo, matizes que nos iludem, sugestões ideológicas que nos escapam. Elas deixam claro que é magnífico o espelho que ele apresenta a nossos olhos e que é fascinante aquilo que ele nos permite aprender sobre nós mesmo.
A celebração dos 460 anos do nascimento de Shakespeare pode servir de convite, assim, para olharmos novamente no espelho que sua obra interminável nos oferece e para prescrutarmos qual é a face que ele nos revela.
Por: José Garcez Ghirardi
José Garcez Ghirardi é professor da FGV Direito e é autor, entre outros, de O mundo fora do prumo – transformação social e teoria política em Shakespeare (Almedina, 2011) e de Prisões, bordéis e as pedras da lei: ensaios em arte e direito (Editora Del Rey, 2020)
Conheça a Rio Bravo Investimentos
Aqui na Rio Bravo você pode ter acesso os mais variados conteúdos e serviços disponíveis. Acesse a Órbita e nosso canal no Youtube e fique por dentro dos nossos conteúdos! Além disso, você pode conhecer e acompanhar os nossos principais produtos, em dados e análises, informe de rendimentos entre outros assuntos voltados para investimentos e finanças. Entre em contato!
O post Shakespeare, 460 anos: o espelho mágico do Bardo apareceu primeiro em Rio Bravo Investimentos.