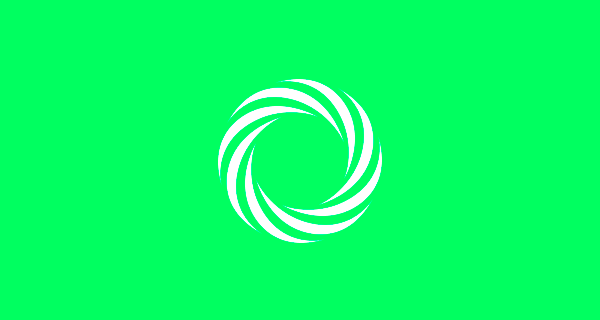Numa época em que a fórmula de marketing das franquias cinematográficas parece ter se esgotado, o ano de 2023 pode ter sido o primeiro passo para uma nova direção na sétima arte
por Luís Villaverde
É cedo para dizer, mas acho que podemos resumir o cinema no ano de 2023 em uma palavra: transição. Todo tipo de constatação abrangente como essa corre o risco de cometer algum tipo de injustiça, seja deixando coisas de fora, seja interpretando outras por um viés restrito. Não, não é uma definição perfeita nem categórica, mas acho que ela pode nos ajudar a compreender quais foram as transformações pelas quais passaram o cinema neste ano.
Em primeiro lugar, o “sistema” hollywoodiano foi bastante abalado. Uma série de estrondosos fracassos de bilheteria podem ter lançado luz sobre o esgotamento de todo um sistema de produção e marketing. Ao menos desde 2010, o cinema americano foi marcado por aquilo que se convencionou chamar de Era das Franquias. O estúdio que se tornou símbolo desta tendência foi, claro, a Disney, mas todos os estúdios hollywoodianos de uma forma ou de outra tentaram aderir a essa tendência, com variados graus de sucesso.
Resumidamente, o filme de franquia coloca a marca acima de tudo. É ela que deve ser trabalhada e protegida, em detrimento de todas as outras coisas, inclusive dos filmes em si. Marvel, Pixar, DC, Velozes e Furiosos etc. A febre por universos cinematográficos, com múltiplos filmes, séries e games conectados entre si numa grande narrativa é o principal recurso estático da Era das Franquias, que parece ter chegado em sua fase metalinguística (pós-moderna?) com a ênfase em multiversos, com múltiplas variações e iterações de uma mesma franquia/personagem. Além disso, reconhecimento de marca (Brand Recognition) passa a ser Ela também marca, uma tendência que por vezes foi chamada de “a morte do astro de cinema”. O público não iria mais ao cinema por conta de um nome ou rosto reconhecido no pôster, mas sim pelo personagem. Esse fenômeno fica claro quando vemos que os filmes do Thor ou do Capitão América são tremendos sucessos, mas os filmes dos astros que os interpretam – Chris Hemsworth e Chris Evans – são completamente ignorados. Filmes de franquia são caríssimos, não só pelos custos de produção e efeitos visuais, mas principalmente por conta do marketing.
São filmes globais, que miram mercados internacionais, principalmente o chinês, e que, por isso, precisam apelar para um número gigante de pessoas de culturas diferentes. A mensagem tem que ser simples, clara, e facilmente vendida em uma campanha publicitária. Efeitos visuais impressionantes e coloridos certamente ajudam neste processo, assim como uma estrutura modular, com trechos e passagens dos filmes que podem ser alterados, substituídos ou mesmo retirados totalmente, como forma de se adequar a outros mercados e públicos. Por fim, obviamente, a marca reconhecível já faz por si só metade do trabalho de chegar ao consumidor final. Por isso que os últimos anos também foram marcados por continuações, remakes, reboots e legacy sequels, como as de Indiana Jones, Star Wars e Caça-Fantasmas. E, até então, o modelo funcionava. Repetidamente, os filmes da Marvel (hoje, mais de 30, sem contar os seriados de TV) batiam recordes de bilheteria, assim como remakes em live action de clássicos desenhos da Disney. E, no entanto, em 2023, estes filmes fracassaram.
Homem Formiga e Vespa: Quantumania (Disney/Marvel) foi um fracasso de bilheteria e de crítica, e Guardiões da Galáxia Vol. 3, apesar de ser um sucesso de público e crítica, e ter lucrado, fez menos dinheiro que os episódios anteriores. Da DC/Warner, The Flash e Besouro Azul foram “bombas” na bilheteria que só seriam suplantadas pelo estrondoso fracasso de Indiana Jones e o Chamado do Destino (Disney/Lucasfilm) e As Marvels (Disney/Marvel). O décimo Velozes e Furiosos, apesar da bilheteria, não lucrou, e teve uma recepção morna, para não dizer, indiferente. Podemos ainda citar outros fracassos como Shazam! A Fúria dos Deuses e Transformers: O Despertar das Feras. A sobrevida das extensões dessas franquias em streamings também não foi das melhores. Para um meio tão dependente de “buzz”, quase ninguém falou das produções da Marvel neste ano, e muito menos da Lucasfilm (Star Wars).
Barbie e Oppenheimer: o fenômeno Barbenheimer
Surpreendente mesmo foi o sucesso estrondoso de Barbie, de Greta Gerwig; e Oppenheimer, de Christopher Nolan. O segundo é notável por ser um longa dramático, de três horas de duração, cujo assunto é, principalmente, física quântica. Apesar de um elenco recheado de astros de cinema, o papel principal, não é. Cilian Murphy é, sem dúvida, um ator conhecido, principalmente da TV (graças à série Peaky Blinders), mas é longe de ser um astro como Robert Downey Jr, que interpreta seu rival no filme. Além disso, a campanha de marketing foi focada fortemente em Christopher Nolan, o seu diretor/autor, pois não há uma franquia ou marca para ser trabalhada. O filme fez quase 1 bilhão de dólares nas bilheterias, e as vendas de BluRay estão esgotando os estoques. Isso se contrapõe a toda a narrativa dos últimos anos, de que o público não só não consome filmes originais, como tampouco consumiria filmes nos cinemas, que seriam ocupados somente por filmes de franquias voltados a crianças e adolescentes – isso sem mencionar o fato de que muitos decretaram a morte da mídia física.
Barbie é igualmente notável. A princípio, é um filme de franquia. Barbie é a marca de bonecas mais famosa do mundo, e as bonecas impactaram ao menos três gerações de mulheres no mundo inteiro. Todo mundo sabe o que é uma Barbie. E, no entanto, a diretora e roteirista Greta Gerwig conduziu a super-produção (que custou bem menos que um filme da Marvel ou da DC, no entanto) da mesma forma como dirigia seus pequenos filmes independentes, como Frances Ha e Little Women. Tem sido uma tendência da indústria da franquia audiovisual contratar diretores oriundos do cinema independente para tocar super-produções – é o caso de James Gunn, Taika Waititi, Jon Favreau etc. Ao usar diretores inexperientes em super-produções, mas com talento para atores, os executivos conseguiam exercer mais controle sobre toda a linha de produção de um filme, em especial no roteiro e efeitos especiais. Na contramão disso, Gerwig fez seu filme com poucos efeitos especiais digitais e muito mais liberdade criativa. Tendo em vista que Barbie se tornou o maior sucesso comercial do ano, não é de se espantar que o fenômeno Barbenheimer tenha surpreendido – e, talvez, assustado tanto – os executivos.
Taxi Driver, impossível nos dias de hoje
Nos anos 1960, Hollywood entrou em uma crise profunda. Seus filmes não davam mais o retorno que davam antes, e o público migrava cada vez mais para a televisão. Regida por um rígido código de censura moralista, o infame Código Hayes (que, além de interditar nudez, palavrões, sexo, proibia que personagens corruptos ou mesmo ambíguos existissem e triunfassem nos filmes), o cinema hollywoodiano passou a ser algo tosco, canhestro e cafona, principalmente diante de uma nova geração que celebrava os primeiros passos da “youth culture”. Poesia beat, rock’n’roll e os primeiros passos da contracultura, que se mesclaria com a revolução sexual e a legislação dos direitos civis acentuou a defasagem de Hollywood em relação ao resto dos Estados Unidos. Isso ficou claro quando filmes estrangeiros, esses sim realmente transgressores e em sintonia com as tranformações culturais do mundo ocidental, começaram a lucrar mais que o cinema de Hollywood. Falo aqui dos filmes de Jean Luc Godard, François Truffaut, Pier Paolo Pasolini, Ingmar Bergman e tantos outros mestres europeus. Desesperados, os estúdios logo passaram a contratar uma nova geração de executivos, que encontrassem um jeito de renovar o próprio cinema americano. Deles, dois se destacam: Alan Ladd, Jr. e Robert Evans. Os novos executivos tinham que buscar talento em lugares inusitados, fora do circuito tradicional. Evans, por exemplo, fez a manobra ousada de contratar um jovem rebelde da primeira turma da faculdade de cinema da USC (University of Southern California), e deu liberdade total para que esse jovem – Francis Ford Coppola – tocasse a adaptação de grande orçamento de um bestseller: O poderoso chefão, de Mario Puzo. O resto, bem, é história – no caso, a da Nova Hollywood, a geração de Coppola, Martin Scorsese, William Friedkin, Michael Cimino, Robert Altman, Peter Bogdanovich, Monte Hellmann, James Toback, Steven Spielberg, Brian De Palma e George Lucas, para citarmos somente alguns.
Os filmes desses diretores iam no sentido contrário de tudo que víamos até então, libertados das amarras do Código Hayes, que deixou de vigorar em meados dos anos 1960. Seus filmes revisaram e atualizaram gêneros clássicos, como o filme de gângster, o drama, o horror, o policial e musical, mas sempre trabalhando numa chave em profundo diálogo com tendências vanguardistas e moralmente complexas e ambíguas. Basta pensar em um personagem como Travis Bickle (Robert De Niro), o protagonista de Taxi Driver, de Scorsese. Impossível nas décadas anteriores – e praticamente impossível, no cinema mainstream, hoje.
A Nova Hollywood também entrou em decadência. Filmes de Scorsese, Friedkin e, principalmente, Michael Cimino, fracassaram estrondosamente nas bilheterias. Tal fracasso foi pareado por uma onda de novos blockbsuters, como filmes catástrofe e de ficção-científica – no caso, Star Wars, de George Lucas. É o começo do cinema blockbuster contemporâneo, que se transformaria no cinema high concept nos anos 1980 e 1990 (o termo é de Justin Wyatt) – neles, o marketing é o mais importante, e não é de se surpreender que Hollywood tenha renovado seu talento criativo com diretores oriundos da publicidade e dos videoclipes: é a geração de Tony Scott, David Fincher, Michael Bay, Zack Snyder, Dominic Sena, Antoine Fuqua. Filmes estilosos, com trilha sonora pop licenciada e tramas geralmente simples, facilmente aproveitadas pelo marketing. Isso, somado ao sucesso blockbuster de Batman, de Tim Burton, e os filmes de Star Wars, e temos a gênese do atual cinema de franquia – que parece estar mostrando sinais de cansaço.
Com isso, não quero dizer que teremos uma Nova-Nova Hollywood. A história não se repete, nem mesmo no cinema. Hoje em dia, não temos só a televisão e o rádio, mas podcasts, redes sociais, Tik Tok, streamings. Um mundo muito mais globalizado e, por vezes, homogeneizado. Não temos uma contracultura – talvez, uma “microcultura”, como diz o crítico Ted Gioia. Não vivemos a era das grandes meta-narrativas, nem mesmo a da sua dissolução – vivemos em um mundo muito mais fragmentado, que tem seus meios de produzir suas próprias meta-narrativas e realidades paralelas.
Além disso, a Era das Franquias gerou bilhões de dólares de uma maneira extremamente consistente por mais de uma década. Não são alguns fracassos que vão parar a máquina, nem mesmo quando contrastado com o sucesso pontual e surpreendente de alguns filmes de “autor”. É cedo para dizer, ainda mais tendo em vista que teremos um status quo novo em Hollywood, após as longas greves de roteiristas (do WGA, o Writers Guild of America) e dos atores (o SAG, Screen Actors Guild).
O avanço da Inteligência Artificial e a força do “conteúdo”
Afora isso, temos a própria questão tecnológica. Ao longo de 2023, muito se comentou a respeito do avanço da IA (Inteligência Artificial), principalmente para classes artísticas, políticas e jornalísticas. Ferramentas como o ChatGPT e Midjourney abalaram diversas profissões com a ameaça de substituir artistas visuais e da palavra, tanto que a IA foi uma constante nos protestos dos roteiristas e atores de Hollywood. Mas também devemos olhar para outra palavra que conquistou de vez os holofotes: conteúdo.
“Conteúdo” se tornou um termo polêmico. O termo em si, no contexto cultural, surge no meio tecnológico de gigantes como a Microsoft e o Google. Com a ascensão de redes sociais como o Twitter (atualmente X), Facebook e YouTube, o usuário da rede também se tornou um produtor de conteúdo, seja ele vídeo, um post longo no Facebook, uma foto no Instagram ou um microblog no Twitter. Logo, a palavra se expandiu para o cinema, a TV e a música. Junto a ela, também passamos a escutar muito sobre “retenção de espectador”, “algoritmos”, “pipeline” e, claro, nossa velha conhecida: “brands”. É um vocabulário corporativo das gigantes de tecnologia. Martin Scorsese, em 2021, atentou para o fato de como chamar cinema de conteúdo termina por desvalorizar a arte. Segundo ele, cinema não é só um contêiner de mensagens e narrativas; arte, pelo contrário, possui uma riqueza de significados e sensações, não tão facilmente captáveis com “conteúdo”. Já Guillermo Del Toro apontou que “pipeline” – linha de dutos, em tradução literal, termo que remete ao cronograma e calendário de produção, pós-produção, marketing, lançamento e distribuição de filmes e séries – é um termo que geralmente é aplicado para gasodutos e esgotos. Segundo ele, filmes, TV e música não podem ser simplesmente despejados sobre o espectador, pois isso também desvaloriza a arte. Artistas como Matt Damon, Tilda Swinton, Christopher Nolan e Quentin Tarantino, para citarmos alguns, também expressaram desgosto diante dessa postura e da infiltração desse vocabulário corporativo em um meio artístico.
Pode parecer mera birra de artistas ricos e consagrados – e velhos – diante dos inevitáveis avanços da tecnologia e progresso da sociedade. Mas eles têm razão. Arte é uma forma de comunicação profunda, que requer paciência, tempo e concentração. Em uma era hiperconectada e com déficit de atenção, o que esses cineastas estão falando é praticamente uma declaração de guerra. E filmes como Oppenheimer, Barbie, assim como Assassinos da Lua das Flores, Napoleão, O Assassino – e mesmo o sucesso autoral de James Gunn em Guardiões da Galáxia Vol. 3 podem apontar para o fato de que o espectador também esteja se cansando do modelo de streaming, de home viewing e da produção padronizada e sem sabor, ditada por algoritmos e todo aquele vocabulário corporativo vazio. É difícil saber se os streamings estão passando por uma crise, uma vez que há pouca transparência em relação a dados de audiência, mas, diante de mudanças drásticas, como aumento generalizado de cobrança, diversificação do catálogo, diminuição no ritmo de lançamentos, e a entrada de publicidade na programação (e, na verdade, a própria adesão a um modelo de programação mais tradicional) apontam para o fato de que, talvez, nem tudo vá bem no Vale do Silício.
Quando unimos essas duas tendências – a Era das Franquias e do Conteúdo – um retrato aparece. Nas telonas, tivemos uma proliferação de blockbusters de super-heróis e de outras grandes franquias, com tramas simples repletas de efeitos especiais e tendo em mente um público jovem. Isso fez com que gêneros tradicionais e consagrados, como policial, thriller, drama, romance, comédia (cada um com seus subgêneros e variantes) praticamente desaparecesse das salas de cinema. Claro, ainda há os filmes independentes, de distribuição restrita, mas estes gêneros, outrora comuns e populares, migraram para a TV e streamings. Seja na forma de filmes exclusivos, ou de seriados e minisséries, o fato é que o cinema voltado para adultos, e de orçamento mid-budget não encontra mais espaço nos principais cinemas. Personagens ambíguos e complexos, inseridos em tramas moralmente ambivalentes, como os que tínhamos nos filmes da Nova Hollywood, são encontrados hoje em personagens como Tony Soprano (Família Soprano), Walter White (Breaking Bad), Don Draper (Mad Men) e a família Roy (Succession). Mas estas séries, no entanto, são a exceção. A ascensão do “conteúdo” gerou um achatamento estético, temático, narrativo e, principalmente, imaginativo. A proliferação de expressões e terminologia corporativa e comercial no jornalismo especializado, nas resenhas e mesmo nas bocas de diretores e atores, em entrevistas, se tornou mais comum do que a discussão dos méritos artísticos e estéticos. O resultado dessa união é a sensação de um empobrecimento geral da arte.
Cinema e TV, mais do que qualquer outra arte, representam o ápice da relação entre Arte e Comércio. Raramente as duas coisas andam juntas, mas os altos custos de produção nestes meios exigem o comercialismo, seja na forma de marketing, seja na distribuição, seja na escolha de temas, roteiros, histórias e interferências de executivos de toda sorte. Isso não é novo. Mas, como tentei apontar, esse cabo de guerra às vezes fica mais para um lado do que para o outro.
O curioso de um momento como o da Nova Hollywood é que não é simplesmente que o campo da Arte venceu – os filmes desse período foram, em geral, grandes sucessos comerciais. É como se executivos e cineastas tivessem resolvido a “equação completa do cinema” (palavras de F. Scott Fitzgerald). O fato é que atualmente, na Era das Franquias, o comércio encampou sua vitória. Mas é um campo que parece estar mostrando sinais de cansaço, ainda mais diante da força renovada do outro campo. Neste ponto, 2023 me parece ser o primeiro sinal de uma transição, de uma nova passagem. Quem comandará isso, e como isso se dará, é muito cedo para dizer, ainda mais quando vivemos em um “ecossistema” midiático muito mais complexo e multifacetado. Mas que uma mudança está ocorrendo, creio que não restam dúvidas.
*Luís Villaverde é cineasta, roteirista e escritor. Para mais textos do autor, acesse: https://luisvillaverde.substack.com/
O post Crepúsculo dos Deuses apareceu primeiro em Rio Bravo Investimentos.